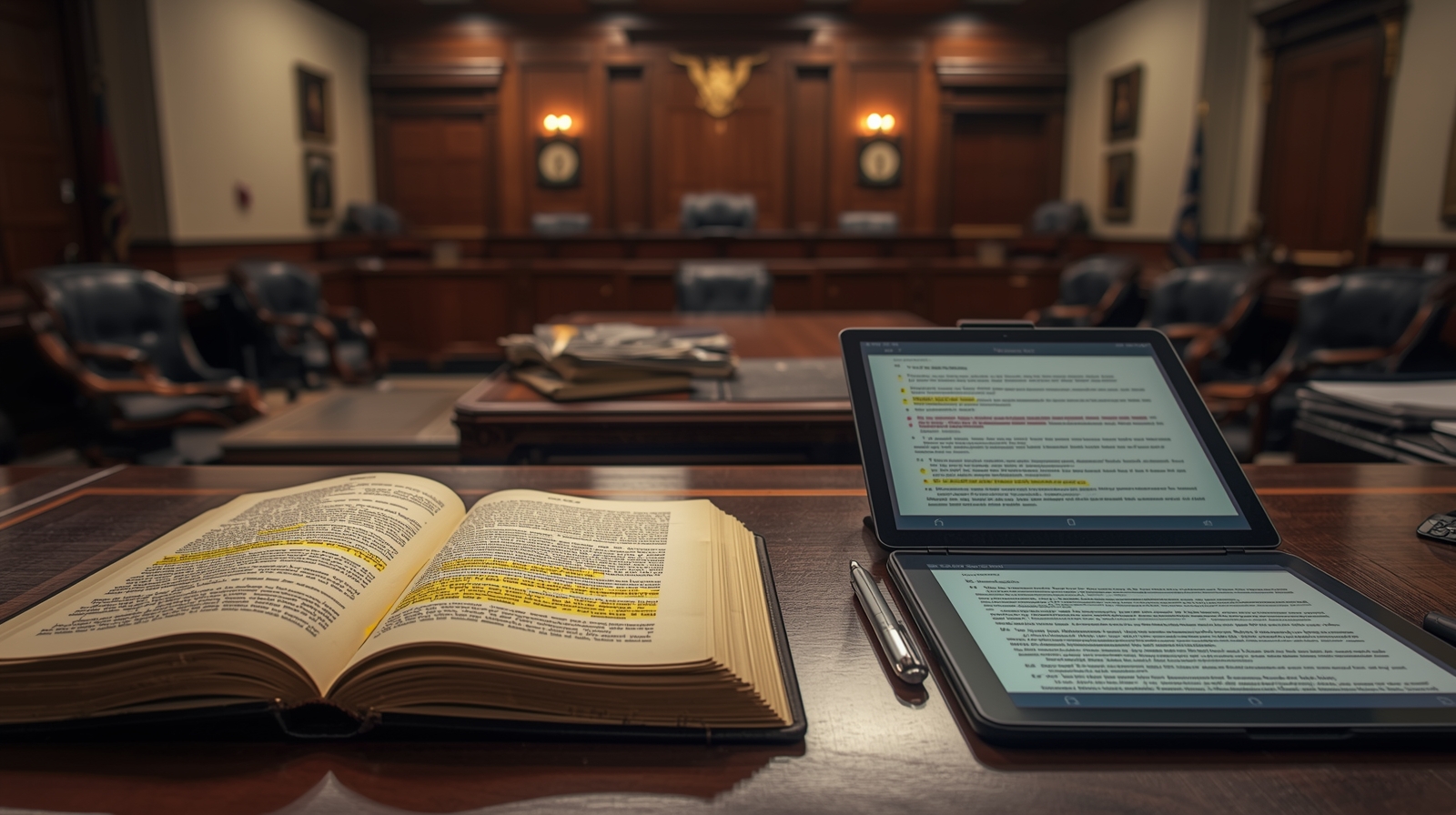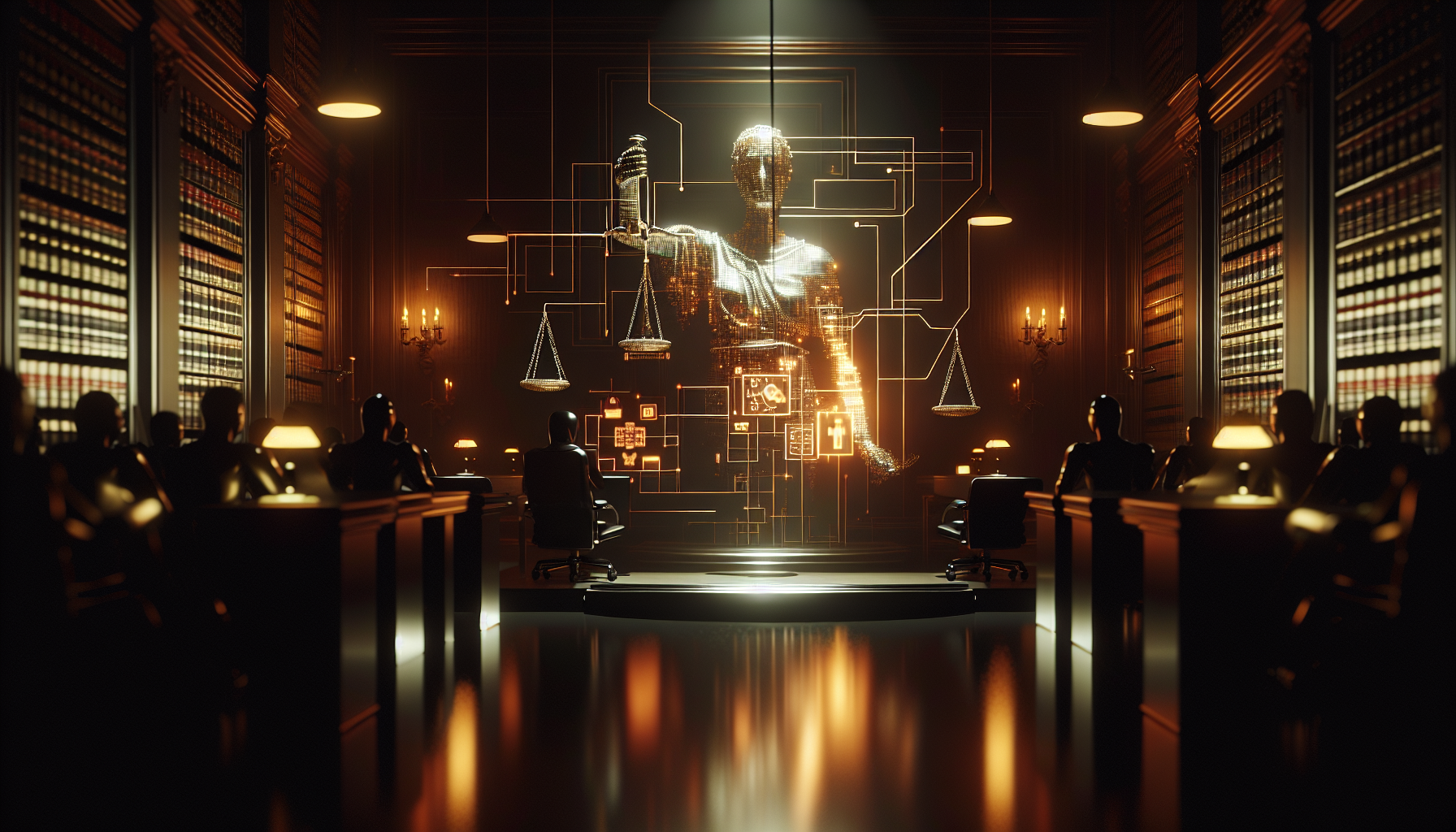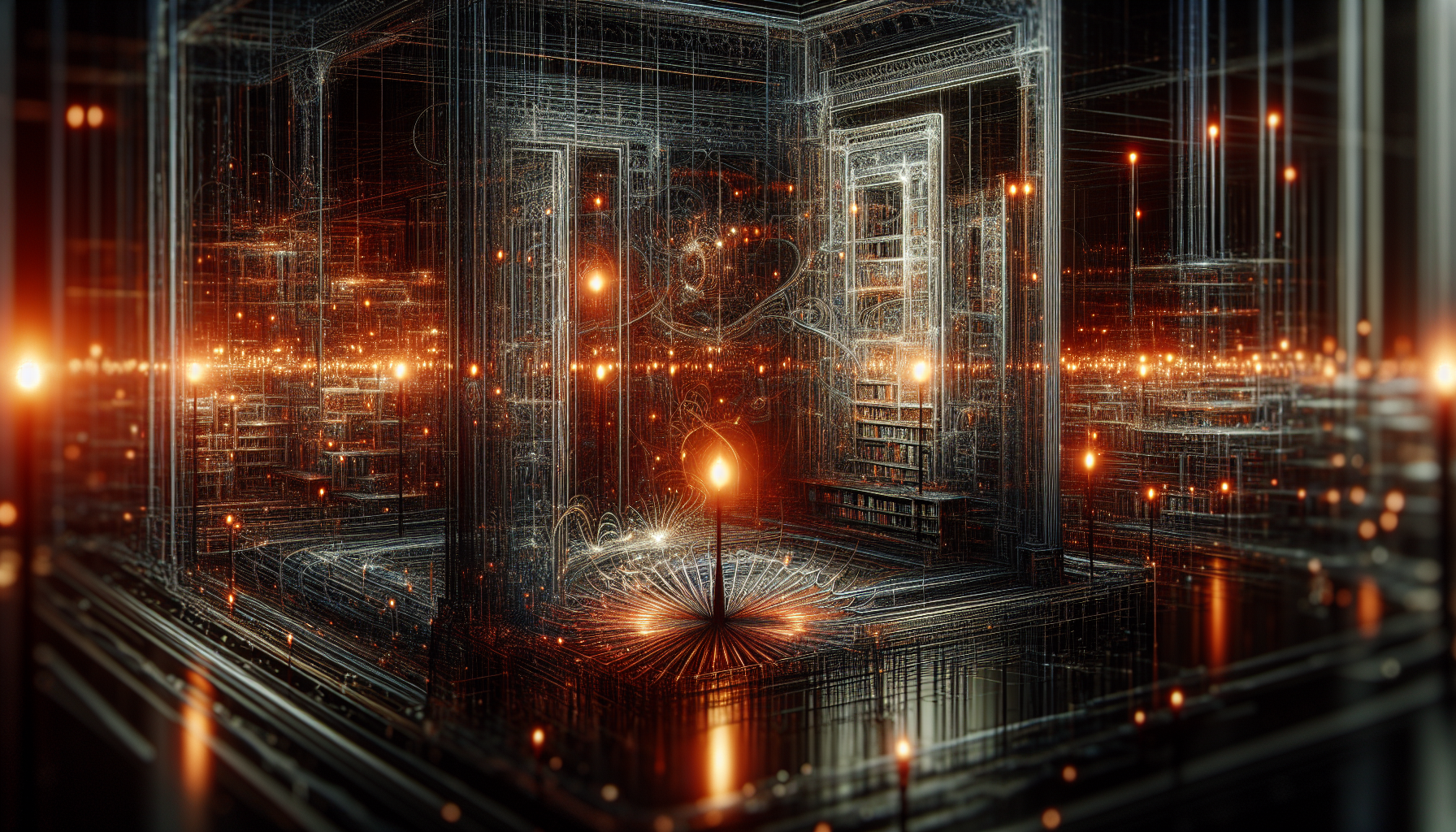A tributação incidente sobre a perda de energia elétrica é uma das questões mais complexas e relevantes dentro do Direito Tributário aplicável ao setor elétrico. A natureza dessas perdas, sua contabilização, bem como sua influência na apuração de tributos federais, têm sido objeto de frequentes debates entre Fisco e contribuintes, além de farta produção doutrinária e jurisprudencial.
Entendendo o Conceito de Perda de Energia Elétrica
No contexto do setor elétrico, as perdas de energia representam a diferença entre a quantidade de energia inserida no sistema e aquela efetivamente entregue ao consumidor.
Essas perdas podem ser classificadas como:
- Técnicas: decorrentes de limitações tecnológicas inerentes à transmissão e distribuição.
- Não técnicas: associadas a furtos, desvios ou erros de medição.
O ponto central está em estabelecer a natureza jurídica e fiscal dessas perdas: tratam-se de produtos inexistentes, insumos consumidos ou despesas dedutíveis? Essa definição reflete-se diretamente nos cálculos de tributos como PIS, COFINS, ICMS e IRPJ/CSLL.
Insumos e Créditos de PIS e COFINS: Amplitude e Limites
A apuração de créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, estabelecida pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, está condicionada à essencialidade e relevância do bem ou serviço para a atividade do contribuinte.
O artigo 3º dessas leis autoriza o desconto desses créditos quando o insumo é utilizado na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
O desafio jurídico reside em determinar se a energia elétrica perdida pode ser tratada como insumo consumido no processo produtivo, justificando o crédito, ou se é apenas uma despesa operacional.
O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.170/PR) ampliou o conceito de insumo, reconhecendo a essencialidade e relevância como critérios interpretativos, o que influencia diretamente o debate sobre o tratamento das perdas no sistema elétrico.
Base de Cálculo do ICMS e a Perda de Energia
O ICMS, regido pela Lei Kandir (LC nº 87/1996), incide sobre a circulação de mercadorias, tomando como base o valor da operação.
Surge, então, a questão: energia não entregue ao consumidor deve integrar a base de cálculo?
Parte da doutrina defende que somente a energia efetivamente consumida configura fato gerador do imposto, já que não há circulação mercantil nas perdas técnicas.
Embora o CONFAZ reconheça que perdas não constituem fato gerador, ainda há divergências nos tribunais estaduais quanto à aplicação prática desse entendimento.
Natureza das Perdas: Quebra, Desperdício ou Inexistência de Fato Gerador?
Nas perdas técnicas, não ocorre circulação mercantil nem transferência de propriedade — elementos indispensáveis ao fato gerador do ICMS.
Dessa forma, tribunais e o CARF têm reconhecido que as perdas inevitáveis não devem ser tributadas, desde que tecnicamente comprovadas e documentalmente registradas.
Já as perdas não técnicas, associadas a furtos ou fraudes, tendem a ser tratadas de forma distinta, podendo gerar reflexos tributários e regulatórios diversos.
A Perspectiva Contábil das Perdas
Do ponto de vista contábil, as perdas são registradas como despesas operacionais ou custos de produção.
Para fins tributários, a dedutibilidade depende de três critérios fundamentais previstos no artigo 311 do RIR/2018:
- Necessidade,
- Usualidade,
- Comprovação documental idônea.
Nem toda despesa registrada contabilmente é dedutível para fins de IRPJ e CSLL, sendo essencial comprovar que a perda é inerente e inevitável ao processo de transmissão e distribuição.
Jurisprudência e Doutrina sobre Perdas de Energia e Tributação
A jurisprudência administrativa e judicial apresenta entendimentos variados.
O CARF possui decisões que excluem perdas inevitáveis da tributação, desde que demonstradas tecnicamente, enquanto outras mantêm autuações quando falta documentação robusta.
A doutrina majoritária, contudo, é firme em reconhecer que as perdas técnicas não configuram fato gerador de tributos, pois não há operação econômica nem circulação de mercadorias.
Práticas Relevantes na Apuração Tributária sobre Perdas
Advogados e contadores devem adotar medidas preventivas e de compliance para garantir segurança jurídica e evitar autuações:
- Mapear e classificar adequadamente as perdas (técnicas e não técnicas).
- Manter relatórios técnicos detalhados, elaborados segundo normas da ANEEL e procedimentos contábeis.
- Segregar contabilmente os valores correspondentes às perdas inevitáveis.
- Registrar e documentar todas as etapas para fins de comprovação fiscal e regulatória.
A clareza conceitual sobre as perdas também é determinante para efeitos tarifários e de planejamento tributário.
Reflexos Práticos no Contencioso e na Atividade Consultiva
O tema da tributação sobre perdas energéticas é recorrente em consultas fiscais, pareceres técnicos e contencioso administrativo e judicial.
Profissionais que atuam no setor elétrico precisam dominar:
- a legislação tributária federal e estadual;
- as normas da ANEEL;
- e os pronunciamentos contábeis (CPCs) aplicáveis.
A intersecção entre regulação, contabilidade e tributação exige uma abordagem multidisciplinar e estratégia argumentativa sólida para defesa de teses e mitigação de riscos.
Oportunidades e Riscos Fiscais no Setor Elétrico
Empresas do setor podem, mediante comprovação técnica e documental, pleitear restituição ou compensação de tributos pagos a maior, especialmente no tocante ao PIS, COFINS e ICMS incidentes sobre energia perdida.
Por outro lado, a falta de controle e segregação adequada das perdas pode gerar autuações vultosas, com repercussões financeiras e reputacionais significativas.
Conclusão
A tributação sobre perdas de energia elétrica requer uma análise jurídica, contábil e regulatória integrada.
A tendência jurisprudencial é privilegiar a materialidade e boa-fé, afastando a incidência de tributos sobre fatos sem expressão econômica real.
A gestão eficiente das perdas, aliada ao compliance fiscal, é determinante para a sustentabilidade financeira e regulatória das empresas do setor elétrico.
Quer dominar Direito Tributário e se destacar na advocacia?
Conheça nosso curso Pós-graduação em Direito Tributário e transforme sua carreira.
Insights
- A tributação sobre perdas de energia é tema central para o contencioso tributário no setor elétrico.
- Documentação técnica e contábil robusta é essencial para afastar autuações.
- A integração entre regulação, contabilidade e Direito Tributário é indispensável para segurança jurídica e competitividade.
Perguntas e Respostas Frequentes
1. A energia elétrica perdida pode ser considerada insumo para fins de crédito de PIS/COFINS?
Depende. Se a perda for inerente ao processo produtivo e comprovada tecnicamente, pode ser reconhecida como insumo essencial, conforme o entendimento do STJ.
2. As perdas de energia devem integrar a base de cálculo do ICMS?
Não. A energia não entregue ao consumidor não caracteriza fato gerador do imposto, pois não há circulação mercantil.
3. As perdas são dedutíveis para IRPJ e CSLL?
Sim, desde que atendidos os requisitos de necessidade, usualidade e documentação idônea previstos no RIR/2018.
4. Há diferença de tratamento entre perdas técnicas e não técnicas?
Sim. As perdas técnicas são inevitáveis e inerentes ao processo; já as não técnicas (furtos, fraudes) podem gerar reflexos distintos, inclusive em responsabilidade administrativa.
5. Como as empresas podem mitigar riscos tributários relacionados a perdas?
Por meio de controles técnicos rigorosos, relatórios auditáveis e acompanhamento permanente da jurisprudência e das normas da ANEEL.
Aprofunde seu conhecimento
Acesse a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 no Planalto.
Se esse tema impacta sua operação, consulte nossos especialistas.
Conheça os serviços do Cometti, Figueiredo e Pujol – Sociedade de Advogados e agende uma conversa.